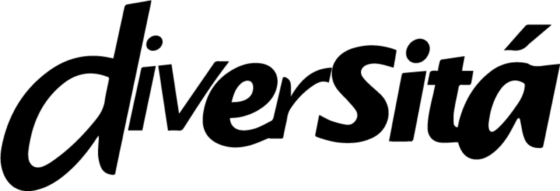Dos encontros com Haneke, sempre ficarão as dores. As dúvidas que alguma vez nos tomaram, sobre seu possível maniqueísmo flutuando pelos fotogramas, se convertem na percepção de que são as suas dores. Se o diretor costuma filmar pesadelos e mostra-los como se fossem realidade, até que a montagem os entregue, é porque a vida (o cinema, as histórias a se contar) pra ele é isso: pior que os pesadelos. Dela, não acordamos. Daí, este “Amor”, onde o que assistimos é a construção dessa situação para onde George Laurent não gostaria de ter sido acordado. Pouco sabemos sobre ele e Anne. Como sempre, no cinema de Haneke, não há apresentações. Somos, na sala de cinema, na sala do casal, esse olhar que chega e descobre-se chegando, sem conhecimentos prévios. E somos introduzidos ao mundo dos casais sem as linhas de roteiro que para isso costumam servir. Lembremos de Caché. Outro George, outra Anne. A mesma ausência de apresentações, a mesma interrupção do cotidiano. Apenas estamos na sala, eles apenas são. E o passado brota das prateleiras, dos hábitos, das faces. Sim, as faces são um segredo de Haneke. Assim, nada será mais impactante que os planos em que George sutilmente se assusta ou se surpreende com Anne. Nada será mais doloroso que Anne e a degeneração gradual que passa. Haneke, que já admitiu publicamente que tem interesse na provocação do espectador sobre a realidade, coloca-nos diante de histórias que sempre, sempre, são apenas a ponta do iceberg. Assim, ele nos apresenta “Amor” e provoca reflexões que não cabem aqui, neste texto.