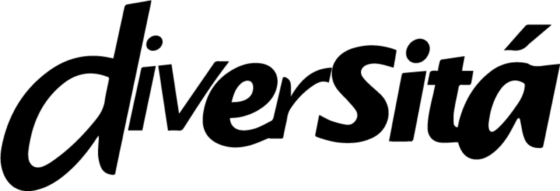Caí em Sing Street (2016) totalmente ao acaso. Fazia alguns dias que queria rever Begin Again (2013), por ser um desses filmes que te abraçam, como diz a amiga Inara Rosas. Na ausência de abraços físicos a gente se joga na arte, que tem sido a principal fonte de respiro para brasileiros desencantados, é preciso dizer. Daí, acessando o filme, pensei: mas o diretor não fez mais nada? Foi quando me surpreendi justamente com o fato de que seu filme mais novo já tem quatro anos e eu estava bem atrasado.
Gosto muito do cinema de John Carney. Talvez por ser músico, sou conquistado pelo modo simples que ele consegue retratar habilmente algo muito particular e específico da vida de um músico: o processo criativo. Compor é algo difícil de ser registrado em narrativa ficcional. Não existe um momento “eureca!” como nas cenas de Don Draper em Mad Men. E pode ficar meio brega como naquela biografia dos primeiros anos da Legião Urbana. Compor geralmente significa ser brega por inúmeros versos e depois, em um esforço hercúleo, deixar de ser, aos poucos, para construir alguma coisa pretensiosamente original.
Sing Street tem pelo menos duas cenas específicas de composição em dupla. Um personagem pensando a música, outro pensando a letra. E isso é uma memória afetiva gigante pra mim. Fiz isso, já adulto, por pelo menos uns 5 anos com o meu amigo e padrinho de casamento Feliciano Neto. Escrevíamos canções congregacionais, como participantes de comunidade evangélica. Neto já fazia isso desde a adolescência e, juntos, chegamos a gravar um EP.
Então aqueles momentos em que você vive uma euforia criativa, que cresce à medida que as ideias se encaixam em letra e música, são muito bem feitos por Carney. E isso é evidente desde Once, seu primeiro grande filme. Nele, o registro criativo é mais ligado ao arranjo musical, como na cena perfeita em que a dupla canta juntos Falling Slowly sem nunca ter feito isso. Quem é músico e tem experiência de ensaiar com banda sabe: a mágica de ter outro músico entendendo seu espírito naquela criação é evidente em uma sala de ensaio. Sabendo o tom da música e tendo entrosamento, empatia, a coisa flui com a facilidade que é retratada nos três filmes. Especialmente quando se fala de música pop, claro.
***

Tem muita verdade nos três filmes. No fim do dia, John Carney é um diretor anti-cinismo. Seus filmes não funcionam para quem não consegue se conectar àquele universo – parecem bregas, forçados. É algo similar ao que acontece com os filmes de Shyamalan: ele acredita em seus personagens e, por retratar arte, acredita na áurea dessa música que faz a narrativa acontecer.
Isso tudo não quer dizer que seus filmes sejam restritos ou para público seleto, musical – muito pelo contrário. É uma posição que Carney assume em seu fazer, sem medo de entrar no território do piegas. Acho que em Begin Again ele acerta menos o ritmo disso tudo, muito provavelmente por ser seu primeiro grande projeto, com estrelas de peso do cinema e fora da sua terra natal (e ainda tem a “praga Weinstein” na produção). Mas ainda acerta muito. É ótima a cena em que o personagem de Adam Levine volta de Los Angeles e mostra uma nova canção para Keira Knightley e ela só de ouvir sabe que ele a traiu.

Por mais que os três filmes tenham uma latência romântica entre os protagonistas ou essa seja sua história principal (como em Sing Street), me parece que Carney está sempre mais interessado em falar de amizade do que de amor romântico. Apenas no terceiro filme o casal protagonista termina junto, mas ainda assim (spoilers adiante):
(a) em Once, os dois terminam muito mais amigos do que pretendentes, cada um retomando sua vida com seus relacionamentos quebrados – a música é uma espécie de redenção para o personagem anônimo de Glen Hansard;
(b) em Begin Again, você sente uma possibilidade romântica mais clara na sequência em que eles ouvem música juntos, mas eles terminam amigos, mesmo com a personagem de Knightley dispensando o ex na ótima cena do show – ela volta a reencontrar Rufallo apenas para fazer algo muito simbólico de uma geração: lançar tudo online;
(c) em Sing Street as amizades são grande parte da força motora do filme (a relação de Cosmo com o “empresário” da banda e o guitarrista são ótimas), mas a relação com o irmão chega a ser ainda mais interessante que a paixão de Cosmo por Raphina. Não à toa, a cena final é uma despedida exercendo uma função de ritual de passagem, quase de casamento, com Raphina abraçando carinhosamente o cunhado que acabou de conhecer.
***

Por fim, talvez o ponto crucial para entender o cinema de John Carney: seus filmes estão em um território novo que passeia entre o gênero musical clássico e a cinebiografia musical. Se você pensar em filmes musicais clássicos como Cantando na Chuva ou Sinfonia em Paris, você tem peças musicais originais, com dança, quebrando a expectativa diegética dos filmes: há uma quebra da narrativa natural e as canções vêm como representações dos sentimentos, da imaginação ou de uma simples emulação-transferência dos consagrados espetáculos da Brodway para as telas.
Já em cinebiografias musicais como Johnny & June ou Bohemian Rhapsody, o registro é de números musicais que aconteceram, ou de gravações em estúdio ou de interpretações/composições na intimidade. Porém, as canções não são originais. Tudo é a tentativa de criar uma narrativa cinematográfica de um fato histórico, geralmente adaptado de algum livro. No caso do filme sobre Fred Mercury, com a produção consultiva dos músicos do Queen.
Os filmes de Carney absorvem a ideia de canções originais, feitas para a história (dos musicais), junto à ideia de apresentações musicais pop, que vêm das cinebiografias. A diferença essencial está em um detalhe importante: são seus personagens que compõem as canções que cantam. O caso Once é ainda mais peculiar, já que o personagem que compõe é interpretado pelo próprio compositor, Glen Hansard.
Quando a gente olha para filmes como La La Land (que desgosto) se percebe um esforço muito mais próximo do modo tradicional de fazer uma narrativa permeada pela música. Já em filmes como Nasce Uma Estrela (a versão recente de Bradley Cooper), há uma intenção que dialoga com o trabalho de Carney – que, a meu ver, é mais rico de significados e temas para pensar os limites do próprio cinema. Não à toa, várias cenas dos filmes de Carney ganham aquela áurea extradiegética dos musicais clássicos: o que acontece em cena deixa de ser realista e ganha uma dimensão de sonho, de imaginação, mas sem descolar o personagem do cenário onde a música está acontecendo.
Isso é outro cinema, bem mais interessante e que amadureceu muito com uma produção enxuta de três filmes ao longo de dez anos, desde Once. Carney, co-criador de várias das canções de Sing Street, mostra que se interessa em fazer um cinema que dialoga com a música de um jeito novo. E isso, sem dúvida, é sempre essencial de acompanhar.